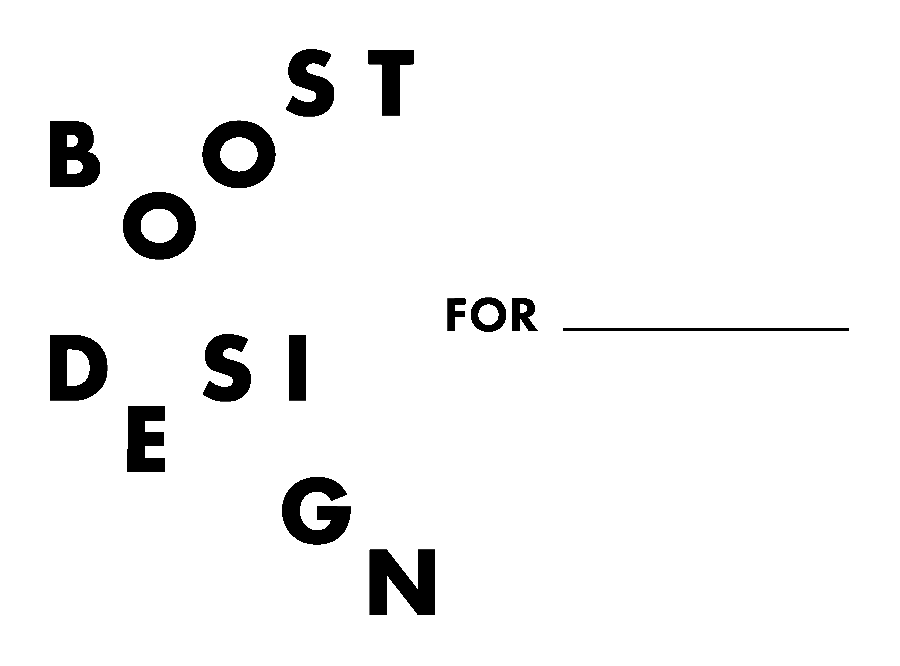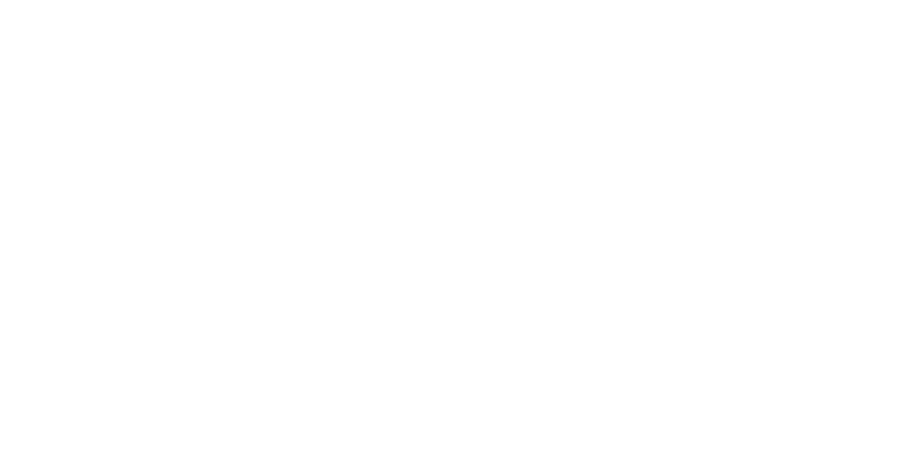A política é parte integrante da atividade dos designers, sendo esta, portanto, uma dimensão central do design de comunicação. Quer isto dizer que, o “design é, como tudo na vida, político” (Moura, 2008a, p. 36)1 porque, tal como Steven Heller e Michael Bierut defendem, todas as decisões do designer se concentram à volta da sociedade.
JAN VAN TOORN
Jan Van Toorn, ao descrever a crise refletida na atividade do designer de comunicação, defende que “agora que a esfera pública democrática desmoronou na inflação administrativa e académica impulsionada pelo lucro do clima neoliberal mundial, o pragmatismo otimista e a convicção na prestação de grandes serviços no design de comunicação, gerou uma atraente calma caracterizada pela falta de discurso” (2016, pp. 40, 41)2. Nota que, em mais de uma década, ainda é necessária uma mudança de pensamento no profissional, acrescentando que é urgente uma politização dos instrumentos de crítica. Afirma que é necessário “lutar contra os dualismos raivosos e o egocentrismo antagonista de um mundo em que quase tudo se torna ambíguo através de uma auto mistificação conceptual e estética como um impasse perigoso para a libertação e igualdade”; que “é tempo de aceitar a realidade como profissionais contra a correção atual: para projetos que, afastados da estética como ela é, lidam e contribuem novamente para a esfera pública face ao progresso e mudança social” (2016, p. 41)2.
ANDREW BLAUVELT
Segundo Andrew Blauvelt (2006)3, sem uma autonomia crítica, caímos na inevitável definição do design como um prestador de serviços. Se nos anos 90 surgiu uma geração de vozes que debateram os méritos das mudanças existentes , fazendo desta uma década importante para o design, afirma que, em 2006, com a crise económica subsequente, essas tendências já não pareciam ser tão vincadas. Afirma que os debates significativos sobre a estética foram substituídos pelo consenso, isto é, passámos de uma luta sobre a escolha de um estilo para um acordo sobre todos os estilos. Quando o autor fala de estilo, refere-se ao gesto, assumidamente ideológico, e a um sinal que diferenciou e codificou o seu assunto. Assim, defende que o estilo foi antes reduzido a uma escolha, não a uma questão de convicção, mas de conveniência; que este estado plural tende a ser disperso e incoerente.
O autor introduz ainda o termo post-critical no discurso do design, afirmando que o design é muitas vezes reduzido a uma escolha de meios para entregar uma mensagem: um anúncio, livro, brochura, website, entre outros. Nesta compreensão redutora do design fica implícita a sua própria negação como uma prática disciplinar e social e, assim, também a possibilidade de uma autonomia crítica. O design, precisamente porque é uma forma instrumental de comunicação, não se pode separar do mundo, em vez disso, deve ser visto como uma disciplina capaz de gerar significado nos seus próprios termos, sem confiar indevidamente em comissões, funções, materiais ou meios específicos.
RAMIA MAZÉ
Ramia Mazé (2009)4 defende uma posição crítica ao afirmar que o design deve permitir colocar questões através da sua prática, tanto sobre o designer e o design, como sobre outras áreas fora do seu campo de atuação. Os designers, através da sua prática, têm o poder e a capacidade intelectual e ideológica para lutar contra ideologias predominantes ou dominantes. Desta forma, é possível colocar uma crítica contra os princípios, mecanismos e efeitos do capitalismo ou do socialismo.
DANIEL VAN DER VELDEN
Daniel van der Velden (2006)5 acredita que existe um problema de luxo, uma vez que os designers trabalham em massa sobre desejos em vez de necessidades. Questiona se o designer é alguém que pensa, projeta, produz e vende, ou alguém que está preso a um rato e arrasta objetos através do ecrã do computador. O fim lógico desta realidade é o recuo do designer inovador da cultura corporativa e o crescente controlo do cliente sobre o design, e por consequência, sobre o designer.
O autor apresenta como hipótese a pesquisa e desenvolvimento, ou seja, o designer deve entregar-se completamente à produção do seu conhecimento pessoal e independente porque “se existe algo que deve ser redesenhado, é o designer em si”. O design deve tornar-se numa disciplina que conduz pesquisa e gera conhecimento – conhecimento esse que torna possível a participação séria em discussões que vão além do design enquanto tema. Ao invés de oferecer respostas, o designer deve colocar perguntas sobre os assuntos sociais e políticos atuais da humanidade, assumindo o debate com instituições, marcas ou partidos políticos. Daniel van der Velden (2011)6 refere outra proposta – os designers devem manter o mais possível uma condição especial de estudante, uma vez que não têm uma fórmula rotineira, estando, portanto, fora da zona de conforto e mais abertos ao mundo atual.
KATHERINE MCCOY
Katherine McCoy (2003)7 aponta um problema de distanciamento no designer. Segundo a autora, o conceito de profissionalismo no design gráfico foi moldado em grande parte pelo legado do modernismo do século XX, através de Bauhaus ou das linhagens suíças. Contudo, existem largos aspetos dominantes na ética modernista, como os ideais, formas, métodos e mitologias centradas no universalismo, abstração, funcionalismo, racionalismo e objetividade, que afastaram os designers do seu meio social cultural.
O designer deve quebrar a mentalidade neutra, obediente e servidora à indústria e ser um bom cidadão, participando na definição do nosso governo e sociedade e incitando os outros à participação; o designer é um solucionador de problemas que responde às necessidades dos clientes, mas que deve considerar os problemas que assume (McCoy, 2003)7. Katherine McCoy defende que o primeiro princípio deve ser o de não divorciar a forma do design do seu conteúdo ou contexto, porque o contrário corresponde a uma atividade de passividade que implica que a forma gráfica nada tenha a ver com valores subjetivos ou ideais.
VICTOR MARGOLIN
De acordo com Victor Margolin (2006)8, se os designers propõem cenários para a mudança social, devem abordar duas questões: em primeiro lugar, como podem desenvolver um conjunto de valores fundamentais que os orientem na tomada de julgamentos sobre a forma como ambicionam que o mundo seja; e, em segundo lugar, como entender o verdadeiro caráter dos dispositivos, sistemas e situações, com os quais a sociedade vive.
RESUMO
Em suma, o designer é, nos dias de hoje, maioritariamente um prestador de serviços que distancia a forma do conteúdo ou contexto e refuta qualquer responsabilidade pelo impacto do seu trabalho. O distanciamento do designer do seu meio social cultural é uma das maiores causas do problema – existe uma falta de ideologia que se torna ela própria uma ideologia, uma ideologia onde se nota uma falta de preocupação por causas sociais e políticas inerentes à disciplina. O designer foca-se na satisfação de desejos ao invés de necessidades e na estética desprovida do seu conteúdo. Daqui resulta a desvalorização do trabalho do designer e a falta de discurso na praxis do design.
Os diversos autores referenciados propõem soluções através da politização dos instrumentos da crítica, isto é, do questionamento de assuntos sociais e políticos, da pesquisa, da produção de conhecimento pessoal e independente, da quebra de uma mentalidade neutra e obediente à indústria, e da caraterização do designer como um bom cidadão que considera os problemas que assume. Existe cada vez mais a necessidade de uma mudança iminente e da adaptação dos designers ao contexto em que nos encontramos. O designer precisa integrar-se nos assuntos sociais, políticos e culturais atuais, e participar na resolução dos problemas que deles são gerados, mantendo assim uma posição política.
1 Moura, M. (2008a). Alinhamento óptico. Em M. Moura, O Design em Tempos de Crise (pp. 35-36). Portugal: Braço de Ferro - arte & design.
2 Toorn, J. V. (2016). Operationalising the Means: Communication Design as Critical Practice. Em F. Laranjo, Modes of Criticism 2: Critique of Method (pp. 39-46). Portugal.
3 Blauvelt, A. (2006). Towards Critical Autonomy. Em M. Beirut, W. Drenttel, & S. H. (Eds), Looking Closer 5: Critical Writings on Graphic Design (pp. 8-11). New York: Allworth Press.
4 Mazé, R. (2009). Critical of What? Em M. Ericson, M. Frostner, Z. Kyes, S. Teleman, J. Williamsson, M. Ericson, M. Frostner, Z. Kyes, S. Teleman, & J. Williamsson (Edits.), Iaspis Forum on Design and Critical Practice: The Reader (pp. 389-408). Berlin: Sternberg Press.
5 Velden, D. V. (2006). Research & Destroy: Graphic Design as Investigation. Obtido em 15 de novembro de 2016, de Metropolism Magazine: http://www.metropolism.com/magazine/2006-no2/research-destroy/english?utm_source=designernews
6 Velden, D. v. (2011). What does it mean to design? Interview with Daniel van der Velden / Metahaven. Obtido em 02 de novembro de 2017, de That New Design Smell: http://thatnewdesignsmell.net/daniel-van-der-velden-explains-himself/
7 McCoy, K. (2003). Good Citizenship: Design as a Social and Political Force. Em S. Heller, & V. Vienne, Citizen Designer: perspectives on design responsibility (pp. 2-8). New York: Allworth Press.
8 Margolin, V. (2006). The Citizen Designer. Em M. Bierut, W. Drenttel, & S. Heller, Looking Closer 5: Critical Writings on Graphic Design (pp. 118-128). New York: Allworth Press.